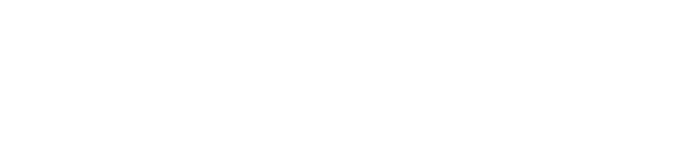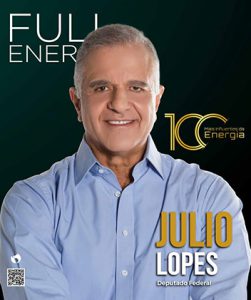O G7, grupo das maiores economias globais, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá (China não entra, nem Índia), procura limitar o valor pago pela importação do petróleo russo.
A ideia é fazer com que Moscou deixe de guerrear na Ucrânia e, assim, não conturbar o equilíbrio, e a virtude, da União Europeia e dos Estados Unidos.
Eis uma das questões que mais perturbam o setor intelectual, de ciências humanas, ligado a estudos de energia, é a que pede a seguinte resposta: quem determina o valor do “ouro negro” no mercado internacional?
Quem produz petróleo automaticamente interfere no montante em que ele é negociado? Como ocorre em várias investigações das ciências humanas, a resposta não é automática.
A resposta não é instantânea, mas nem por isso deve ser ignorada. E a pergunta até pode servir como estímulo ao debate sobre o tema tão premente da geopolítica e relações internacionais, ainda mais hoje em dia.
E sobre tal esforço de investigação há bom número de trabalhos disponíveis, apesar da acidez que o terreno demonstra para quem que nele se aventura.
Nos anos 1980, havia um professor de História Medieval da Universidade de São Paulo, Ricardo Blanco, cuja opinião era bem simples e direta: quem produz petróleo domina a política internacional. ,
Por ser também arabista e divulgador de mestres(as) do Islamismo intelectual, aquela expressão soava como vento fresco para jovens que militavam na causa palestina e, ao mesmo tempo, não deixava de demonstrar subsídio contra o imperialismo estadunidense ou expansões israelenses.
Na década de 1990, passou a haver livros e artigos, trazendo interpretações que podem ser consideradas exóticas para os(as) habituados(as) nas explicações dos anos anteriores, sobretudo, após o choque de petróleo de 1973, a famosa ação promovida pelos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), com a qual foi dificultada, em grande monta, a exportação de óleo para quase todo o mundo.
Talvez um efeito não percebido, colateral, foi o de ter prejudicado antigos países do Terceiro Mundo, não possuidores de petróleo em peso, uma vez que em quatro semanas o barril do óleo saiu de uns 2 dólares e pulou para 12 dólares. Voltaremos depois nisso.
O ato que deu visibilidade aos países do Oriente Médio apresenta interpretações variadas. Há aqueles(as) que pensam ser o boicote dos produtores uma expressão maior de um mal-estar que já vinha acontecendo desde o final dos anos 1950: a clivagem entre os países industrializados, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, ricos, mas sem grandes quantidades de matérias-primas de primeira ordem, como petróleo, e a expressiva parte do mundo, Hemisfério Sul, que possuía relevantes reservas de hidrocarbonetos, embora socialmente pobres. O resultado desse conflito só poderia dar em guerras, como a do Golfo, em 1991.
Do ponto de vista tradicional, porque é bastante utilizada nas explicações históricas e políticas sobre as razões que levaram o mundo a passar pelo choque da Opep, o motivo se encontra no ressentimento que os países árabes tiveram contra as potências ocidentais, por terem apoiado Israel na Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), em 1973.
Egito, Síria, Arábia Saudita, Líbia, Jordânia e, indiretamente, Cuba e ex-União Soviética acreditaram que seria possível vencer Israel em enfrentamento clássico, mas depois de vinte dias a sorte virou e passou a beneficiar as forças de Jerusalém.
De fato, os Estados Unidos se empenharam para passar a Israel suprimentos militares para que o país pudesse substituir aqueles perdidos no campo de batalha.
Não há como saber se toda a Europa Ocidental ofereceu apoio declarado, mas é sabido que o território português dos Açores, no Mediterrâneo, serviu como base de apoio logístico para abastecimento israelense.
O que os países árabes poderiam fazer, à primeira vista, seria contra-atacar as potências ocidentais por terem contribuído para a vitória de Israel. Por isso, o boicote do “maná” seria o passo primordial para demonstrar aquele ressentimento.
Afinal, quem é dependente de petróleo importado? De alguma forma, esta é a explicação tradicional dada para o ensino universitário.
A explicação excêntrica do ato de 1973, com seus desdobramentos, pode ser vista assim: o boicote promovido pela Opep foi providencial para as grandes potências ocidentais para que, ao menos aquele modelo de tormento antissistêmico, fosse evitado na medida do possível.
O antídoto para tanto seria estudar os meios pelos quais os produtores de petróleo tiravam proveito das peculiaridades da economia internacional de energia para cortá-las. Em linhas gerais, os países ocidentais teriam de anular a logística do petróleo feita pelos exportadores e substituí-las por países que não criassem problemas, como Grécia e Chipre.
Outro passo a ser feito seria o relativo desmonte de infraestrutura nos países exportadores que permitissem a venda de derivados e produtos refinados.
Os governos árabes, em possíveis boicotes, teriam somente o petróleo bruto sob a terra, mas não poderiam transportá-lo ou refiná-lo in loco.
Isto não quer dizer que ficar apenas com óleo in natura fosse pouca coisa. Claro que não! Mas tal operação diminuiria o poder de projeção política da Opep.
Vale lembrar que em 1971 o governo dos Estados Unidos, de Richard Nixon, havia quebrado o “padrão ouro” e, por isso, tirou a obrigação de o dólar ser emitido em correspondência ao metal.
Ainda que tal política não fosse pensada para o petróleo, não há dúvida de que ela serviu a Washington, uma vez que empurrou sua moeda como uso obrigatório no comércio exterior. E aí a pergunta inicial neste texto ressurge: quem emite o dólar?
Assim, já na primeira parte dos anos 1980, as potências importadoras começavam a obter resistência contra maquinações da Opep.
Além das medidas mencionadas, mais três seriam relevantes: a prospecção de petróleo em quantidades apreciáveis no Mar do Norte europeu, a volta da ex-União Soviética ao mercado internacional de energia e, a atitude mais complexa, a centralização da comercialização do petróleo nas quatro principais praças internacionais das finanças e da logística.
Nova York e Londres seriam as negociadoras principais por meio de suas bolsas de valores: Wall-Street (cotação WIT) e City (cotação Brent). (**)
No âmbito do armazenamento, aparece o porto de Roterdã, inclusive para o mercado spot. Por fim, para a dinamização logística e de apoio financeiro, Cingapura.
E para assegurar esse fundamento, a emergência da Doutrina Carter, de 1980, que ocuparia as principais passagens e estreitos de petroleiros, por meio da marinha estadunidense na península arábica — situação que perdura até os dias de hoje, apesar das diferenças governamentais daqueles(as) que ocupam a Casa Branca. A geopolítica do petróleo fica acima disso.
Dessa forma, da década de 1980 até 2021, praticamente, não houve boicote ou politização do óleo que prejudicasse o mundo ocidental.
A efetiva centralização e comercialização de energia em Nova York e Londres foi resultado, sem dúvida, de parceria estratégica entre as duas potências para evitar medidas extremas daqueles governos orientais.
Ao lidar com megabancos de investimentos, mercados futuros e financeirização de commodities, Estados Unidos e Grã-Bretanha fizeram um serviço que ajudou a mitigar a máxima dita pelo antigo professor de História, na qual quem produz petróleo exerce poder.
Essa operação anglo-americana não teve propósito de prejudicar financeiramente os membros da Opep. A estratégia não foi concebida para isso, mas sim para não permitir o excesso de politização do óleo.
Os produtores podem lucrar com suas vendas, mas usar essa riqueza para atos geopolíticos, com objetivos de alterar o sistema internacional, não é admitido.
E se houve algum país rebelde o resultado foi infeliz para ele: o Iraque em 2003 e, nos novos tempos, a ferramenta pode se voltar para a atual guerra europeia, para a Rússia de Putin.
É fato que Moscou é capital de uma grande potência, ainda que economicamente limitada. A guerra, ou operação militar, que a Rússia trava contra a Ucrânia, toca delicadamente a estabilidade político-econômica da União Europeia e dos Estados Unidos, em outra situação.
Os poderes ocidentais, sabendo dos limites industriais russos, tencionam usar o fator energético, gás natural e petróleo, para dobrar o poder do Kremlin. Por isso, o rol de boicotes econômicos, políticos e sociais que o Ocidente procura bancar contra a Rússia.
Eis o miolo da questão. Ao procurar importar menos gás natural russo, Estados Unidos e União Europeia, com destaque para Alemanha, guardam o princípio de que fazendo isso haveria menos recursos financeiros para que a Rússia mantivesse sua operação militar.
De carona, há também a máxima virtuosa para que haja adoção da economia verde, da descarbonização, para que se faça diminuição do aquecimento global.
As medidas do green power europeu levaram em conta o emprego massivo de energias renováveis. Esse assunto, sem dúvida, revelou a vulnerabilidade europeia, cujo fruto é profunda crise de abastecimento.
Os países europeus podem perder, mas não obrigatoriamente os Estados Unidos, já que serão petroleiras estadunidenses que venderão gás natural no Velho Continente.
Mesmo assim, a política ocidental, para fazer com que a Rússia ganhe menos recursos pela exportação de hidrocarbonetos, é aventada para que ela abandone a guerra na Ucrânia.
Para isso, o G7, praças de negociação de hidrocarbonetos (na verdade Estados Unidos e Reino Unido), sugere ao mundo para que limite a compra do energético russo a 60 dólares o barril. Sem intervenção, a cotação geral fica entre 90 a 95 dólares no clima atual.
É certo que esse intuito é controverso, mas conhecido pela política de poder do Ocidente. Afinal, qual foi o propósito de despolitização no uso do petróleo a partir do choque de abastecimento de 1973?
A Rússia não é geopoliticamente análoga aos países do Oriente Médio. Mesmo assim, Moscou não participa da maneira com a qual se contabiliza o valor internacional do óleo cru. Por isso, em princípio, a Rússia teria de aceitar as injunções de Nova York e de Londres.
O que o governo Putin pode fazer para superar esse impasse ainda não está à mostra para análise mais bem-feita. Porém, para começar, sabe-se que as injunções ocidentais têm o poder de atrapalhar, mais ainda, aquilo que por natureza já é conflituoso há bastante tempo.
Isto porque, caso haja efetivamente limitação artificial no valor do petróleo russo, alguns efeitos colaterais, semelhantes aos da Opep de 1973, podem aparecer: 1 — provocar encarecimento do frete naval; 2 — inibir o setor de seguro dos petroleiros; 3 — aumentar o desvio de óleo para a Ásia e; 4 — provocar um tipo de bolsa paralela de cotação para burlar o Ocidente.
Além do mais, tudo isso ainda pode prejudicar o grupo de países pobres, aqueles que não guardam condições de tomar parte em todo esse pesado jogo. Enfim, os frutos de 1973 podem voltar renovados para novos temas neste final de 2022.
Será que a premissa do antigo professor de história da USP ainda continua válida? Quem produz petróleo, mesmo sob um cartel do tipo Opep, exerce poder na política internacional ou o jogo é bem mais complexo do que as nossas sensações pegam no calor do debate? O tema é atraente e caloroso, com perdão do pobre trocadilho, mas válido na atual conjuntura.
(**) Na verdade, o uso do nome Wall Street é genérico, mais conveniente. Isto porque há uma similar específica para assuntos de petróleo, a Nymex, parte do complexo financeiro de Chicago, mas que opera em Nova York.
** Artigo escrito por José Alexandre Altahyde Hage, professor do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Osasco